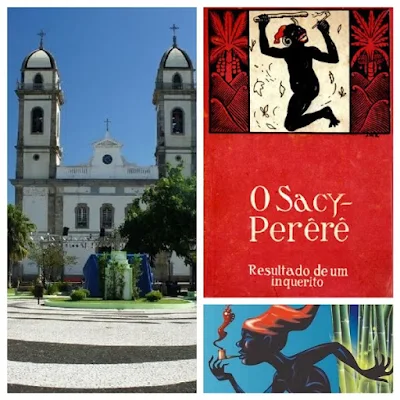Em
seu livro “O Saci Pererê: Resultado de um
inquérito”, publicado em 1918, onde reuniu uma série de depoimentos sobre essa
endiabrada criatura do folclore brasileiro, Monteiro Lobato incluiu também o
relato do senhor N. Carneiro, morador de Iguape, que tinha visto “o Saci com os olhos que a terra há de
comer”. O depoente avistara o saci quando criança e também depois de
adulto.
Em
agosto de 1916, viajando pelo rio Ribeira, na lancha “Prainha”, quando a embarcação aportou junto a um barranco para
passar a noite, Carneiro desembarcou e foi procurar abrigo numa choupana
próxima. A noite estava “escura como breu”,
e ele, para “espairecer”, saiu a andar na escuridão. Numa moita, absorto, ficou
a contemplar a única estrela que cintilava no céu, quando um saci apareceu na
sua frente. “Cruz credo! Valei-me, Senhor
Bom Jesus!”, gritou, assombrado. O saci foi embora, mas Carneiro conservou
por muito tempo no ouvido o assobio agudo do “moleque”: “Saci perê sem fim...”
Carneiro também contou que, na sua infância em Iguape, fora muito perseguido pelos sacis. Até os 13 anos fora vítima de vários encontros com esse ser endemoninhado, no Caminho do Porto, no Largo das Dores, junto ao Cemitério, no Largo de São Francisco (Praça de São Benedito) etc. Os encontros eram frequentes. Numa ocasião, no Largo da Santa Cruz (depois Largo da Misericórdia, no Canto do Morro, hoje desaparecido), ele ia andando com um pote de água na cabeça quando, de repente, foi surpreendido por um saci cavalgando em pelo. Para não ser agarrado, Carneiro saiu numa carreira desesperada, semelhante aos “pegas” dos “Guayanaz” e “Aventureiros”, times da época na cidade. Para se proteger dessas assíduas perseguições, ele passou a usar no pescoço enormes rosários de capiá e olho-de-cabra, além de rezar boas rezas.
Carneiro
descreveu o Saci como “um tipo mignon,
preto, lustroso e brilhante como o piche, não tem pelo no corpo e nem à cabeça;
dois olhinhos vivos como os da cobra e vermelhos como os de um rato-branço; a
sua altura não passa de meio metro; possui dois braços curtos e carrega uma só
perna, com esta pula que nem cutia e corre que nem veado, o nariz, boca e
dentes igualam-se aos dos pretos americanos.”
Carneiro
narrou a Lobato outras histórias de saci. Contava o seu avô, Joaquim, em certa
ocasião, da outra banda do rio, chamaram-no pelo nome: “Seu Joaquim... Seu Joaquim...” A voz parecia de gente. Seu Joaquim
escolheu o melhor varejão (espécie de remo), embarcou na maior canoa e
atravessou o rio que ficava do lado oposto ao seu sítio. Era onze horas de uma
noite “clara como a água”. Quando
chegou do outro lado do rio, não viu ninguém. Passava da meia-noite, a maré
ainda não subira, e o varejão conseguia alcançar o fundo do rio, porém, mesmo
remando com força, a canoa custava a deslizar sobre a água como se estivesse
carregada de chumbo. Seu Joaquim lidou, suou e, fazendo o maior esforço,
conseguiu chegar ao seu porto. E, para o seu espanto, quem saltou da canoa para
a terra? Um saci, que lhe pregara uma peça! Segundo a crença do povo, o saci
tinha sido proibido por Deus de atravessar a água, por isso veio de
“passageiro” na canoa de Joaquim. “Valeu-se
de minha canoa, do meu bom humor, para cá, deste outro lado, vir judiar das
minhas criações!”, reclamava Joaquim.
Uma
tia de Carneiro, chamada Evarista, contou-lhe que, em sua casa, que era feita
de barro e de jiçara (tipo de palmeira), e que já estava esburacada por ser
velha, certa vez, noite alta, ela precisou ir ao quintal para ver os cães que
latiam sem parar como se estivessem pedindo por socorro. Tonta de sono, dona
Evarista chegou à cozinha e não pode ir mais avante: na porta, arreganhado,
desdenhando da solicitude da mulher, um saci lhe disse: “Boa noite, dona Evarista!” A mulher desmaiou e, desde então, nunca
pode se recordar dessa noite sem sentir nojo e asco do saci, que fedia a
enxofre.
Outra
pessoa, de nome Mônica, que morou agregada (ou seja, de favor) na casa de
Carneiro, e que trabalhava como pasteleira, contou-lhe que costumava deixar a
massa de pastel de um dia para o outro na mesa. No dia seguinte, ela se
deparava com uma massa que não podia aproveitar, pois estava suja e com manchas
de sangue. Desconfiada de que aquilo era arte de algum saci, Mônica começou a
fazer, com os dedos, na massa, uma enorme cruz. Essa artimanha deu resultado,
pois nunca mais o saci ousou tocar na massa com as suas mãos sujas e ensanguentadas.
Porém, uma noite, enquanto cochilava sobre a mesa, a pasteleira foi despertada
por um saci de fisionomia alterada e agressiva que lhe intimou: “Nhá Mônica! Amanhã me faça um pastel
grande, grande, assim!”, e alongava os pequenos braços para indicar o
tamanho do pastel, enquanto ria sarcasticamente.
Pelo
que Carneiro sabia, o Saci tinha um poder sobre-humano. Ficava invisível quando
queria, penetrava nas casas pelo buraco das fechaduras e conseguia abrir
qualquer porta, mesmo reforçadas com trancas de pau ou de ferro, a menos quando
a porta contivesse, do lado de dentro, uma oração ou uma cruz. O saci era um
bom cavaleiro, gostava de montaria e escolhia preferencialmente um animal
chucro, divertindo-se em fazer tranças nas crinas, que depois eram difíceis de
ser desfeitas. Também batia nos cães, deixando-os em estado miserável.
São
histórias dos sacis iguapenses...
ROBERTO FORTES,
historiador e jornalista, é licenciado em Letras e sócio do Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo. E-mail:
robertofortes@uol.com.br
(Direitos
Reservados. O Autor autoriza a transcrição total ou parcial deste texto com a
devida citação dos créditos).